E A TABA VIROU METRÓPOLE
- Redação

- 14 de mai.
- 9 min de leitura

O livro Tupinicópolis é aqui? relembra o icônico desfile da Mocidade Independente de 1987 e discute, em forma de textos, debates e depoimentos, os temas centrais levantados pelas alegorias criadas pelo carnavalesco Fernando Pinto
O ano era 1987. Mas, na Avenida Marquês de Sapucaí, o futuro já estava em andamento. Um futuro ao mesmo tempo caótico e apoteótico; uma alegoria retrofuturista que misturava consciência ambiental e crítica social numa espécie de delírio tupiniquim. No desfile Tupinicópolis, da Mocidade Independente de Padre Miguel, o carnavalesco Fernando Pinto imaginou uma megalópole indígena aos moldes da sociedade contemporânea para reverberar as discussões pré-Constituição de 1988 que supostamente assegurariam os direitos dos povos originários a suas terras.
Agora, esse desfile é revisitado e rediscutido com o lançamento, pela Martins Fontes, do livro Tupinicópolis é aqui?, que acontece em 15 de maio na ABAC – Academia Brasileira de Artes Carnavalescas, no Rio de Janeiro. Organizada pela colecionadora Alayde Alves e produzida pelos curadores Clarissa Diniz, Leonardo Antan e Thais Rivitti, a obra traz ensaios e debates com artistas e pesquisadores da área, combinados a fotografias e criações visuais, no âmbito do projeto No Barracão, que visa valorizar a arte carnavalesca ao inseri-la nas discussões do circuito das artes contemporâneas.
SOBRE O DESFILE – TUPINICÓPOLIS
“E a oca virou taba / A taba virou metrópole / Eis aqui a grande Tupinicópolis”, dizia o samba-enredo composto por Gibi, Chico Cabeleira, Nino Bater a J. Moinhos e interpretado por Ney Vianna. Sim, após a demarcação de terras, a taba invadia o espaço caraíba e se transformava em cenário urbano.
Último capítulo de uma trilogia tupiniquim do carnavalesco Fernando Pinto, verdadeiramente brasileira, o desfile Tupinicópolis (1987), da Mocidade Independente de Padre Miguel – vice-campeão dos desfiles daquele ano, mas campeão na memória popular –, entrou para a história como uma revolução muito mais verde que amarela; muito mais tecnológica que primitiva; e, surpreendentemente, muito mais capitalista que tradicionalmente indígena.
No espetáculo, o carnavalesco provou que ecologia e ficção científica poderiam ser combinadas numa utopia reversa. Num futuro que remetia ao passado. Num mundo em que os povos nativos brasileiros venceriam as barreiras sociais e econômicas impostas pelos colonizadores e desfrutariam de uma sociedade moderna, uma taba-metrópole aos moldes “civilizacionais”, com suas facilidades e suas agruras, e descambariam para uma sociedade, embora mais ecológica, igualmente capitalista, consumista e egocentrada.
Nessa cidade tupinicolizada, com sede na Tupioca dos Poderes, a moeda guarani dava a seus habitantes o poder de compra na Farmácia Raoni, no Shopping Boitatá, no Supermercado Casa das Onças; os tupinicopolitanos divertiam-se ainda na Discoteca Saci, no Cassino Eldorado, no Tupy Iate Clube, no Cine Marajoara e até no Bordel da Uiara; as Forças Armadas vinham representadas pelo Tatu Guerreiro, pelo Gaviavião e por alas como a Marinha Tupinicopolitana. Para completar, o carro Lixo do Luxo trazia escombros de eletrodomésticos e réplicas em lixo de pontos como o Cristo Redentor e o Elevador Lacerda, numa alusão ao filme Planeta dos macacos (1968) e deixando claro que o passado branco ficara para trás.
Muitos disseram que o vice-campeonato fora injusto. A sátira bem-humorada do enredo pós-tupiniquim e a ousadia de Fernando Pinto marcariam de fato os desfiles daquele ano, que deram à Mangueira o título por apenas um ponto de diferença. Mas Tupinicópolis permaneceria na memória do Carnaval como uma experiência tropical, tropicalista, antropofágica, surreal.
SOBRE O CARNAVALESCO – FERNANDO PINTO
O pernambucano de Olinda Carlos Fernando Ferreira Pinto enveredou pelo mundo das artes por meio do teatro. No Recife, fez sucesso como diretor, figurinista, cenógrafo e coreógrafo – experiências que cairiam como uma luva no mundo das artes carnavalescas.
O encanto pelo Carnaval carioca veio logo que ele desembarcou no Rio de Janeiro, em 1969, quando chegou com sua trupe para participar de um festival. Acabou ficando ao se encantar comos desfiles de 1970, que para ele se assemelhavam ao êxtase teatral em sua expressão máxima. Logo imaginou plantar as próprias raízes na avenida: por meio de uma carta, apresentou aoImpério Serrano a ideia do enredo Nordeste, seu povo, seu canto, sua gente, que foi embarcado pelo diretor Ernesto Nascimento. Estava confiada a missão a Fernando Pinto, que já em 1971assinou o desfile e levou a escola a um honroso terceiro lugar.
No Carnaval de 1972, sua visão redentora de Carmen Miranda, um ícone da brasilidade que havia sido resgatado pelo movimento tropicalista, sagrou campeã a escola de Madureira. Na avenida, Fernando Pinto mostrou que chegara para revolucionar a linguagem carnavalesca, ao encarar o desfile como uma ópera. A Pequena Notável foi “interpretada” por personalidades da época como Marília Pêra, Rosemary e Leila Diniz – em uma de suas últimas aparições públicas –, mas a grande ousadia ficou para a última alegoria, na qual o carnavalesco teatral colocou umhomem para representar Carmen. E, em meio à polêmica e à exuberância que inauguraria o chamado “Carnaval tropicalista”, o Império Serrano enfim quebrou um jejum de 12 anos e consagrou o nome de Fernando Pinto como um dos maiores carnavalescos da história.
A frutífera colaboração de Fernando com o Império Serrano – em 1973, o primeiro enredo de temática indígena do carnavalesco, Viagem encantada Pindorama adentro, ganhou o vice-campeonato carioca – durou até 1978, quando o desastroso desfile sobre o ator Oscarito levou a escola ao único rebaixamento de sua história.
Vale lembrar que, nos anos seguintes, dividido entre o barracão e os palcos, o artista continuou a intensa atividade por trás de grandes espetáculos teatrais e musicais. Dirigiu, coreografou e criou cenários e figurinos para As Frenéticas, Elba Ramalho, Ney Matogrosso e Chico Anysio. Foi preparador corporal da lendária montagem do Teatro Oficina de A ópera do malandro (1978), de Chico Buarque. Dirigiu e assinou textos para a segunda geração do grupo teatral Dzi Croquetes – foi para a trupe que Fernando, um mestre da contracultura, do underground, da exaltação de personalidades negras, homossexuais, marginalizadas, ostracizadas, chegou a escrever uma peça sobre o emblemático transformista Madame Satã.
Em 1980, Fernando Pinto iniciou uma bem-sucedida parceria com a Mocidade Independente de Padre Miguel, na qual recebeu carta branca para continuar a inovar e a inquietar o mundo do samba. Com o enredo vice-campeão Tropicália maravilha, ele oficializava seu “casamento” com o movimento artístico que, para ele, simbolizava o verdadeiro Brasil. Nas alegorias, com muitas flores, frutas e cores, celebrou diversidade natural do país e misturou tudo com crítica social e política – o último carro, intitulado Anistia, homenageava aqueles que, no ano anterior, começaram a voltar do exílio.
Após uma rápida e decepcionante passagem pela Mangueira – o tradicionalismo da escola verde e rosa não entendeu a revolução da mente do carnavalesco –, Fernando voltou para a Mocidade para dar continuação à sua ideia de trilogia indígena, já iniciada no Império. Em Como era verde o meu Xingu (1983), um verdadeiro manifesto ecológico e humanista, os povos originários eram glorificados como a verdadeira identidade nacional, arrasada com a chegada do homem branco. Visionário, o artista lançou luz a temas como a mudança climática, ainda muito pouco debatida, e a demarcação de terras indígenas, estabelecida na Constituição de 1988 e até hoje um imbróglio social sem solução na Justiça.
Se Fernando Pinto já havia avançado no tempo, em 1985 ele avançou também no espaço, com o enredo de ficção científica Ziriguidum 2001 – Um Carnaval nas estrelas. Claramente inspirado no filme de Stanley Kubrick e em outros clássicos do gênero, ele substituiu as tradicionais plumagens por materiais como plástico e vidro acrílico para apresentar robôs, discos voadores e elementos tecnológicos nas alegorias, tudo misturado a muita brasilidade. O desfile encantou e conquistou público e júri, e a Mocidade sagrou-se campeã absoluta na avenida. Foi o segundo título da carreira do carnavalesco.
Por fim, a trilogia indígena imaginada por Fernando completou-se em 1987, com o memorável Tupinicópolis, que entraria para a história como um dos maiores festejos da cultura brasileira. Festejos interrompidos trágica e precocemente em um acidente de carro, em novembro daquele ano, no qual Fernando Pinto se despediu da passarela, do palco e da vida. Não sem deixar seu último legado: seu derradeiro enredo, Beijim, beijim, bye-bye Brasil (1988), que vislumbrava um Brasil utópico e dividido em “Brasileias encantadas” após a nova Constituição. Que, infelizmente, ele só pôde desfrutar lá das estrelas.
Escute essa playlist de sambas para churrasco na Spotify / Cedro Rosa.
SOBRE O PROJETO – NO BARRACÃO
Tudo começou ainda em 2008, quando uma monografia de pós-graduação elaborada pela colecionadora Alayde Alves sobre a obra de Joãosinho Trinta culminou em um interesse mais amplo pela arte carnavalesca. Ao longo de uma década, ela reuniu cerca de 400 documentos, entre fotos, croquis, estudos para desfiles, entrevistas e recortes de jornais, que resultaram em exposições sobre o trabalho do carnavalesco e num livro sobre a história do Carnaval no Brasil e no mundo, desde o Antigo Egito.
“Nunca entendi a arte como algo hierarquizado. Arte é arte, cada uma com suas especificidades, suas distinções. A arte do Carnaval se dá pela estética da carnavalização, pelas festas, pelo manifesto de alívio. Quando é arte, existe uma experiência artística, que é a essência de tudo. O Carnaval traz tudo isso”, diz Alayde.
Com um grande banco de dados formado acerca do tema, Alayde deu início ao projeto No Barracão. O trabalho do carnavalesco Fernando Pinto e seu icônico desfile Tupinicópolis, de 1987, foi o ponto de partida do projeto, que deu origem ao ciclo de debates online “Tupinicópolisé aqui?”, realizado no segundo semestre de 2022 em parceria com a Carnavalize, plataforma criada para valorizar a história do Carnaval e das escolas de samba de todo o Brasil.
Divididas em quatro temas e com a participação de 12 artistas e pesquisadores – Fred Coelho, Beatriz Milhazes, Leonardo Bora, Abiniel Nascimento, Sandra Benites, Ericky Nakanome, André Rodrigues, Guerreiro do Divino Amor, Fausto Fawcett, Rafa Bqueer, Maxwell Andrade e Pedro Victor Brandão –, as frutíferas discussões agora estão também registradas no livro de mesmo nome, que lança um olhar sobre Tropicalismo, Carnaval, cultura indígena e ficção científica a partir de uma visão que engloba a arte do Carnaval como experiência artística.
SOBRE O LIVRO – TUPINICÓPOLIS É AQUI?
Seguindo a lógica dos debates, o livro é dividido em quatro temas representativos da discussão acerca do desfile de Fernando Pinto, da importância social e histórica da representação indígena em Tupinicópolis e do futuro dessa arte por tantas vezes privada de prestígio no circuito artístico nacional. São eles: Tropicalismo e cultura marginal; Culturas indígenas e alteridade; Futuro e ficção científica; e Arte, protagonismo e capitalismo.
Além de um texto introdutório de Alayde Alves e análises dos curadores Clarissa Diniz, Leonardo Antan e Thais Rivitti, Tupinicópolis é aqui? conta com ensaios de Fred Coelho, Eliane Potiguara, Erick Nakanome, Fausto Fawcett e Mauro Cordeiro. Os autores discorrem sobre a representação indígena (de ontem e de hoje), a cultura do Carnaval, seu futuro e sua relação com o capitalismo – todos temas ligados ao memorável desfile de 1987. Há, ainda, um depoimento do artista e curador Marcelo Velasco, amigo e colega de Fernando Pinto no barracão da Mocidade Independente, que relembra o processo criativo do espetáculo vice-campeão e os desafios para viabilizá-lo.
Como não poderia deixar de ser, a publicação traz um resgate de dezenas de registros visuais da atuação de Fernando Pinto no Carnaval e da passagem de seu icônico desfile pela avenida. São fotografias de Juha Tamminen, Marcelo Velasco e Márdio Silva Júnior e arquivos da Agência O Globo. A iconografia é complementada, por fim, com trabalhos de André Rodrigues, AntonioVieira, Guerreiro do Divino Amor e Moara Tupinambá — que acolheram a temática indígena e do Carnaval para criar interpretações críticas da cultura popular, da resistência indígena e do retrofuturismo tupiniquim de Tupínicópolis.
SOBRE OS ORGANIZADORES
ALAYDE ALVES é colecionadora de arte, formada em administração pela Faap e pós-graduada em arte, crítica e curadoria pela PUC-SP. Mais do que obras de arte, Alayde coleciona conexões. Suas ações múltiplas no sistema ativam e fomentam projetos independentes e experimentais. Gosta de atuar criando pontes entre pesquisadores, curadores, artistas e outros agentes. Em 2013, fundou o grupo Art'emRede, que promove ações de formação de público, como palestras, cursos livres e visitas a exposições. Fomentou a exposição Ratos e urubus, no Centro Cultural São Paulo (2019-2020). Foi apoiadora do I Prêmio Vozes Agudas (2021). É parceira de diversos programas do Ateliê397 e uma das fundadoras do grupo de colecionadores de arte Coleções em Conexão.
CLARISSA DINIZ é curadora, escritora e educadora de arte. Graduada em Artes pela UFPE, mestre em História da Arte pela Uerj e doutoranda em antropologia pela UFRJ, foi editora da revista Tatuí (revistatatui.com. br). É professora da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, no Rio de Janeiro. Além de alguns livros publicados, tem textos incluídos em revistas e coletâneas de arte e crítica de arte, a exemplo de: Criação e crítica — Seminários internacionais Museu da Vale (2009); Artes visuais — Coleção ensaios brasileiros contemporâneos (Funarte, 2017); Arte, censura, liberdade (Cobogó, 2018); e Amérique Latine: arts et combats (Artpress, março de 2020). Desenvolve curadorias desde 2008 e, entre 2013 e 2018, atuou no Museu de Arte do Rio (MAR), no qual realizou projetos como Do Valongo à favela: imaginário e periferia(cocuradoria com Rafael Cardoso, 2014); Pernambuco experimental (2014); e Dja guata porã — Rio de Janeiro indígena (cocuradoria com Sandra Benites, Pablo Lafuente e José Ribamar Bessa, 2017). Em 2019, organizou a mostra À Nordeste (cocuradoria com Bitu Cassundé e Marcelo Campos, Sesc 24 de Maio, São Paulo) e, em 2022, integrou a curadoria das exposições Histórias brasileiras (Masp, São Paulo) e Raio-que-o-parta: ficções do moderno no Brasil (Sesc 24 de Maio, São Paulo).
LEONARDO ANTAN é historiador da arte, curador e escritor, graduado e mestre em História da Arte pela Uerj, na qual pesquisou a linguagem artística dos desfiles das escolas de samba. É editor do projeto multiplataforma Carnavalize, que realiza eventos voltados para a história do Carnaval. Integrou o coletivo curatorial Dia de Glória em parceria com a Casa de Estudos Urbanos. Cursou Imersões Curatoriais no Paço Imperial, no qual curou coletivamente a exposição Limiares. No Carnaval, já atuou como aderecista em escolas como Unidos da Tijuca e Portela, além de ter feito parte da criação do desfile da Unidos das Vargens. Como curador, organizou ainda mostras na Casa de Estudos Urbanos, no Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira (MUHCAB), no Centro Municipal de Artes Hélio Oiticica e no Museu Bispo do Rosário de Arte Contemporânea. Entre as exposições que organizou estão Uma delirante celebração carnavalesca: o legado de Rosa Magalhães; Cartografias de Augusta e LaroyêGrande Rio, no MAR. Na área literária, é editor do Selo Carnavalize, voltado para a publicação de obras sobre a folia brasileira, além de ter publicado dois romances e antologias de ficção LGBT+ pelo Se Liga Editorial. Atualmente, atua como enredista nos Carnavais do Rio de Janeiro e de São Paulo – nesse último, foi bicampeão, em 2024 e 2025, com a Mocidade Alegre.Já na folia carioca, integra a equipe de criação dos Acadêmicos do Salgueiro.
THAIS RIVITTI é curadora e gestora cultural. Há mais de dez anos dirige o Ateliê397, um dos espaços independentes mais longevos e relevantes na cena artística de São Paulo. No Ateliê397 organizou, em conjunto com outros curadores e artistas, as exposições Bora lá (2023) e Dizernão (2021), que relacionavam a produção artística com o contexto político brasileiro. No Sesc Pinheiros, em 2022, foi cocuradora da exposição Estamos aqui, que reunia uma série de artistas e coletivos que tematizavam criticamente o processo de gentrificação urbana, sobretudo no Largo da Batata, em Pinheiros, na capital paulista. Faz parte do coletivo feminista Vozes Agudas, que busca estratégias de visibilizar o trabalho feminino no campo das artes visuais. Pelo Vozes, com outras pesquisadoras, realizou duas chamadas abertas nacionais para artistas mulheres, além de podcasts e seminários. Já atuou como curadora em exposições como Ratos e urubus (Centro Cultural São Paulo, 2019); Modos de ver o Brasil, do acervo do Itaú Cultural na OCA, em São Paulo (2017); e Pintura de exteriores, de Mônica Nador e Jamac (Pinacoteca de São Paulo, 2013). Editou diversas publicações, entre elas: Beatriz Milhazes: pinturas, colagens (2008); Leda Catunda (2009); e Andy Warhol: Mr. America (2010) — todos pela Pinacoteca de São Paulo; além do livro Amigos fumantes, sobre o artista João Loureiro (editora Ubu, 2019) .
Conheça a coluna de Andréa Lögfren sobre a Economia da Cultura, na Cedro Rosa Instagram
SERVIÇO
O QUÊ: lançamento do livro Tupinicópolis é aqui? (São Paulo: Martins Fontes, 2025)
QUANDO: 15 de maio de 2025, a partir das 17h
ONDE: sede da ABAC – Academia Brasileira de Artes Carnavalescas
ENDEREÇO: Travessa do Ouvidor, 9, Centro – Rio de Janeiro – RJ
Venha para a Cedro Rosa Digital, a casa da música certificada no mundo.
Escute em primeira mão.















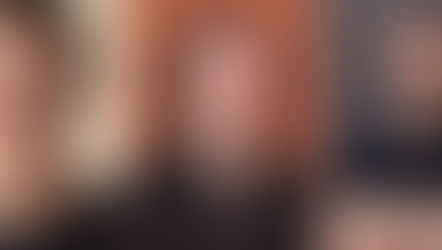



Comentários